José Carlos Vilhena Mesquita
A temática natalícia reveste-se, na sociedade ocidental, de inúmeros panejamentos, desde a música, passando pela pintura até à poesia, onde marcadamente se faz sentir a tradição e o gosto popular. No nosso país, o culto do Deus-Menino remonta aos primórdios da nacionalidade, muito embora a moda trovadoresca dos
 provençais haja desviado as atenções palacianas para os assuntos mais mundanos e pagãos. De qualquer modo o nosso «Cancioneiro Geral» dá-nos, ainda assim, alguns belos exemplos da temática bíblica onde, naturalmente, assume posição de destaque o nascimento de Jesus.
provençais haja desviado as atenções palacianas para os assuntos mais mundanos e pagãos. De qualquer modo o nosso «Cancioneiro Geral» dá-nos, ainda assim, alguns belos exemplos da temática bíblica onde, naturalmente, assume posição de destaque o nascimento de Jesus.Será, todavia, Gil Vicente, no século XVI, quem irá fazer da simbologia natalícia um objecto vivo e cheio de significado, nos autos de Mofina Mendes e dos Quatro Tempos. Segue-se-lhe Baltasar Dias, que, no espírito da Escola Vicentina, compôs o Auto do Nascimento, abrindo, por assim dizer, as portas a uma autêntica avalanche literária, toda ela virada para os problemas inerentes à Natividade.
Desde então o Natal tem sido ponto de encontro dos vultos mais proeminentes da literatura nacional. Recordo, por exemplo, Almeida Garrett na Lírica de João Mínimo, Júlio Dinis nas Pupilas do Senhor Reitor, as Farpas, de Ramalho Ortigão, os contos de D. João da Câmara, Raul Brandão, Fialho de Almeida, e, por fim, as poesias de António Feijó, Fernando Pessoa, Miguel Torga, Vitorino Nemésio, David Mourão Ferreira, e outros poetas das gerações mais recentes.
Nos tempos que correm, a Natividade deixou de ser simplesmente um tema bíblico para se transformar num acutilante tema de contestação político-social, revoltadamente acusatório das disparidades económico-sociais existentes na sociedade moderna.

Na transição do Natal erudito para o Natal popular, podemos verificar, de região para região, sensivelmente os mesmos sentimentos. Porém, estes são extrovertidos de acordo com a sua própria cultura. Daí o Natal algarvio apresentar poucas variantes entre os seus concelhos, muito embora se note uma acentuada diferença na conservação dos costumes entre o litoral e a serra.
De qualquer modo, é nas gentes marítimas que se verifica maior devoção contrastando estas com o paganismo das aldeias do interior. Ora é na freguesia de Moncarapacho, no concelho de Olhão, que mais se acentua esse carácter profano, materializado na constituição de grupos musicais que, na maior parte dos casos não vão além de seis elementos, e aos quais o povo baptizou de «charolas» ou «charoleiros».
Efectivamente, esses grupos musicais que transportam um vistoso estandarte, calcorreiam os vários lugares da freguesia, não lhes escapando o monte mais íngreme ou o cerro mais inóspito. Em chegando à soleira das portas, o ensaiador do grupo popularmente cognominado de o «principiador» canta alegremente, em toada rápida, mas estridente, uma quadra alusiva ao Natal, sendo logo corroborado pelos restantes elementos que, em coro, repetem os versos.
A música que lhes serve de fundo é tocada com instrumentos bem populares, por vezes nada ortodoxos, mas que ilustram a alegria e o poder de improvisação deste povo. Os moradores respondem com vivas e aplausos, consolidados pela oferta de filhóses, pastéis de batata-doce, figos, pinhões e, naturalmente, regados com a boa aguardente de medronho.
As «tournées» das charolas são verdadeiramente extenuantes, pois que, geralmente, percorrem vários quilómetros desde o anoitecer até ao raiar da madrugada. Curiosamente, de ano para ano, os charoleiros vão marcando as portas, de tal forma que só cantam para aqueles que no ano anterior os receberam favoravelmente. Assim, louvam os seus «benfeitores» com orações e quadras, especialmente criadas para o efeito, sendo algumas delas bem agradáveis de ouvir. No caso dos donos da casa não contribuírem com o respectivo óbolo, então os charoleiros vingam-se entoando quadras de carácter depreciativo, por vezes insultuosas, as quais o povo chama de «chacotas».
Ilustremos o que acabamos de afirmar com alguns exemplos. Assim, aos generosos «benfeitores» são dedicados versos como estes:
Esta casa é bem-feita
E talhadinha ao pico;
À gente; que nela mora
Deus lhe dê a salvação.
Ou então:
Esta casa é bela casa
É casa de um lavrador;
A mulher é mui formosa,
A filha é uma flor.
Porém, àqueles que se recusam a abrir a porta são-lhes atiradas chacotas às vezes muito desagradáveis:

Esta casa não é casa,
É casa de algum escrivão;
Tem a mulher bexigosa,
A filha como um tição.
Ou então:
O toucinho é muito duro,
Uma faca não o corta;
Mande dar a esmolinha,
Se não faço asneira à porta.
Como é evidente, estas chacotas nem sempre acabavam bem, não sendo raros os casos em que os charoleiros batiam em desordenada retirada frente ao temperamento pouco acolhedor de algum conterrâneo mal-humorado e de caçadeira em punho. De qualquer maneira; uma noite de charolas em que não se cantassem chacotas não era noite de festa. E estas “charoladas”, diga-se de passagem, não se executavam apenas na noite de Natal, pois que se repetiam igualmente, talvez com mais calor, na noite de passagem de ano e, sobretudo, nos Reis.
Presentemente, a tradição mantêm-se, no entanto, por a sua força se manifestar mais ruidosamente nas noites do Ano Novo e dos Reis, é frequente confundir-se as charolas com o cantar das Janeiras. Contudo, os versos são bem diferentes, dependendo, obviamente, das datas a festejar.
Assim, no Natal entoavam-se cânticos tão belos quanto estes:
Cantemos, vamos cantar,
Cheios de santa alegria
Que nasceu Deus Menino,
Filho da Virgem Maria.
Nasceu p'la meia-noite
Dum tão memorável dia
O Salvador deste mundo
Filho da Virgem Maria.
Nasceu no meio da pobreza
Como reza a profecia
Descendo do céu à terra
O desejado Messias.
Nasceu em pobre arramada
Onde boi e mula havia,
Sem mantas nem cobertores,
Em uma noite tão fria.
Nas vésperas do Ano Novo, as Janeiras ressumam um sentimento mais dramático e emocionante, quando cantadas no género destas que passamos a citar:
Esta noite é de Ano Bom,
É noite de mer’cimentos,
Por ser a primeira noite
Que Jesus sofreu tormentos.
Foram eles tantos, tantos,
Que até a carne lhe cortaram;
O Menino ficou, ferido,
Pingas de sangue lhe tiraram.
Foram três pingas de sangue,
Não nas deixem apanhar:
Uma é para o povinho.
Outra é para o jantar
E das três a que sobrar
Essa é para o Deus Menino.
As Janeiras não se cantam,
Mas nós vimo-las cantar,
Pedindo anos melhorados
E longa vida gozar.
Quanto às cantigas dos Reis, vulgarmente denominadas “reisadas”, verificámos que o seu carácter é mais histórico, versando sobretudo a viagem dos três Reis Magos pelos áridos desertos:

Quem são os três cavaleiros
Que fazem sombra no mar?
São os reis do Oriente
Que a Cristo vêm adorar.
Lá das bandas do Oriente
Os três Reis Magos se partem;
Guiados por uma estrela,
Vêm ver outro Sol que nasce.
Esse Sol dizem que é Cristo,
Filho do Eterno Pai,
Que vem salvar este mundo,
Revestindo humana carne.
Aquele Herodes malvado,
Mui perverso e daninho,
Mandou ensinar aos Reis
Às avessas o caminho.
Terminadas as cantigas, os charoleiros batiam às portas na esperança de os atender um anfitrião que tivesse o menino bem «armado», isto é, que no presépio não faltassem as iguarias repartidas por vários andares numa escalada sucessiva, como se de uma Torre de Babel se tratasse.
Nas residências dos ricos lavradores não faltava, por isso, um “lauto presépio” de linguiça, presunto, carnes variadas e deliciosos pastéis de mel, filhós, bolinhos e empanadilhas de batata-doce, tudo decorado com frutos secos da região. No final, bem aquecidos e inspirados na cálida medronheira algarvia, reuniam-se as charolas em local previamente marcado, geralmente no largo da aldeia, onde encetavam concursos, renhidos combates, entusiásticas competições e despiques, tudo isto ao som instrumental das modinhas populares, às quais as moçoilas correspondiam com um pezinho de dança.
Actualmente, as tradições etnográficas vão-se paulatinamente esbatendo, em parte por falta de incentivos que garantam a sua manutenção e sobrevivência. Apesar disso, subsistem ainda alguns agrupamentos espalhados por esse Sotavento algarvio, com especial destaque para os concelhos de Loulé, Olhão e Tavira. E no domínio da literatura oral o Algarve foi, e continua a ser ainda hoje, uma fonte inesgotável do romanceiro nacional.
É costume dizer-se que no algarvio sobressai um inatismo poético. De facto, também aqui não é estranha a tradição enraizada na cultura árabe que, neste vasto amendoal, cultuou a lira de Orfeu durante séculos. Foram tempos de grande prosperidade cultural jamais igualados pelos sucessivos reinados cristãos.
Mas, desses tempos ficou-nos o exemplo e a inspiração dos poetas da estirpe de João de Deus, Bernardo de Passos, João Lúcio, Cândido Guerreiro. Emiliano da Costa, Júlio Dantas, António Aleixo e muitos outros mais recentes que, por não confiarmos na memória, nos escusamos de referir.
No entanto, e apesar dos poetas que acabamos de nomear não terem versejado ao gosto popular, à excepção de António Aleixo, não podemos deixar de remeter o leitor interessado no estudo da literatura oral e popular, para o valioso espólio recolhido pelo rev. Dr. Francisco Xavier de Ataíde Oliveira, o qual se encontra compilado na obra Romanceiro e Cancioneiro do Algarve. Através dessa notável colectânea podemos hoje comprovar quão rico foi o nosso povo nas suas danças e cantares tradicionais. Perante tão abundante fonte não será por certo difícil extrair dela agora uma Antologia de “remances” e quadras populares dedicadas ao tema da Natividade.
Relativamente ao teatro de tradição oral, obviamente convertido em verso, convém referenciar o Auto da Pratica dos Três Pastores, que remonta ao século XVII e cuja autoria é atribuída, segundo Teófilo Braga, a Frei António da Estrela. Todavia, foi o mesmíssimo Auto recolhido por Ataíde Oliveira no concelho de Loulé, onde era amiudadamente representado pelo povo local, julgando por isso que o seu autor fosse daqui proveniente.
Seja como for, a autoria desse auto, por uns atribuída a Gil Vicente, por outros a Frei António da Estrela, e, finalmente, por Ataíde Oliveira à pena de Domingos Carneiro, não deixa de ser um imbróglio, tão significativo quanto enigmático, para os estudiosos do teatro popular e da cultura portuguesa.
Efectivamente, o «Auto dos Três Pastores», que figura entre os dez mais importantes autos de Natal pertencentes ao teatro popular português, não é absolutamente o mesmo que a Dr.ª Carolina Michaelis de Vasconcelos editou há décadas atrás, pelo que urge fazer uma edição crítica da peça, procurando; tanto quanto possível, identificar-se o texto com o seu presumível autor.
O Algarve encontra-se, assim, bem representado em matéria de teatro sobre o Natal, havendo, estamos certos, outros autos por recolher nos recônditos meandros da serra algarvia. As orações, as canções, as adivinhas, as anedotas e os ditos, são um manancial inesgotável do empirismo popular. É urgente pesquisar e recolher essa riqueza, sem a qual a cultura portuguesa se acha, dia após dia, cada vez mais pobre.
(artigo publicado no Suplemento de Natal do «Diário de Notícias», edição de 25 de Dezembro de 1981)
Que fazem sombra no mar?
São os reis do Oriente
Que a Cristo vêm adorar.
Lá das bandas do Oriente
Os três Reis Magos se partem;
Guiados por uma estrela,
Vêm ver outro Sol que nasce.
Esse Sol dizem que é Cristo,
Filho do Eterno Pai,
Que vem salvar este mundo,
Revestindo humana carne.
Aquele Herodes malvado,
Mui perverso e daninho,
Mandou ensinar aos Reis
Às avessas o caminho.
Terminadas as cantigas, os charoleiros batiam às portas na esperança de os atender um anfitrião que tivesse o menino bem «armado», isto é, que no presépio não faltassem as iguarias repartidas por vários andares numa escalada sucessiva, como se de uma Torre de Babel se tratasse.

Nas residências dos ricos lavradores não faltava, por isso, um “lauto presépio” de linguiça, presunto, carnes variadas e deliciosos pastéis de mel, filhós, bolinhos e empanadilhas de batata-doce, tudo decorado com frutos secos da região. No final, bem aquecidos e inspirados na cálida medronheira algarvia, reuniam-se as charolas em local previamente marcado, geralmente no largo da aldeia, onde encetavam concursos, renhidos combates, entusiásticas competições e despiques, tudo isto ao som instrumental das modinhas populares, às quais as moçoilas correspondiam com um pezinho de dança.
Actualmente, as tradições etnográficas vão-se paulatinamente esbatendo, em parte por falta de incentivos que garantam a sua manutenção e sobrevivência. Apesar disso, subsistem ainda alguns agrupamentos espalhados por esse Sotavento algarvio, com especial destaque para os concelhos de Loulé, Olhão e Tavira. E no domínio da literatura oral o Algarve foi, e continua a ser ainda hoje, uma fonte inesgotável do romanceiro nacional.
É costume dizer-se que no algarvio sobressai um inatismo poético. De facto, também aqui não é estranha a tradição enraizada na cultura árabe que, neste vasto amendoal, cultuou a lira de Orfeu durante séculos. Foram tempos de grande prosperidade cultural jamais igualados pelos sucessivos reinados cristãos.
Mas, desses tempos ficou-nos o exemplo e a inspiração dos poetas da estirpe de João de Deus, Bernardo de Passos, João Lúcio, Cândido Guerreiro. Emiliano da Costa, Júlio Dantas, António Aleixo e muitos outros mais recentes que, por não confiarmos na memória, nos escusamos de referir.
No entanto, e apesar dos poetas que acabamos de nomear não terem versejado ao gosto popular, à excepção de António Aleixo, não podemos deixar de remeter o leitor interessado no estudo da literatura oral e popular, para o valioso espólio recolhido pelo rev. Dr. Francisco Xavier de Ataíde Oliveira, o qual se encontra compilado na obra Romanceiro e Cancioneiro do Algarve. Através dessa notável colectânea podemos hoje comprovar quão rico foi o nosso povo nas suas danças e cantares tradicionais. Perante tão abundante fonte não será por certo difícil extrair dela agora uma Antologia de “remances” e quadras populares dedicadas ao tema da Natividade.

Relativamente ao teatro de tradição oral, obviamente convertido em verso, convém referenciar o Auto da Pratica dos Três Pastores, que remonta ao século XVII e cuja autoria é atribuída, segundo Teófilo Braga, a Frei António da Estrela. Todavia, foi o mesmíssimo Auto recolhido por Ataíde Oliveira no concelho de Loulé, onde era amiudadamente representado pelo povo local, julgando por isso que o seu autor fosse daqui proveniente.
Seja como for, a autoria desse auto, por uns atribuída a Gil Vicente, por outros a Frei António da Estrela, e, finalmente, por Ataíde Oliveira à pena de Domingos Carneiro, não deixa de ser um imbróglio, tão significativo quanto enigmático, para os estudiosos do teatro popular e da cultura portuguesa.
Efectivamente, o «Auto dos Três Pastores», que figura entre os dez mais importantes autos de Natal pertencentes ao teatro popular português, não é absolutamente o mesmo que a Dr.ª Carolina Michaelis de Vasconcelos editou há décadas atrás, pelo que urge fazer uma edição crítica da peça, procurando; tanto quanto possível, identificar-se o texto com o seu presumível autor.
O Algarve encontra-se, assim, bem representado em matéria de teatro sobre o Natal, havendo, estamos certos, outros autos por recolher nos recônditos meandros da serra algarvia. As orações, as canções, as adivinhas, as anedotas e os ditos, são um manancial inesgotável do empirismo popular. É urgente pesquisar e recolher essa riqueza, sem a qual a cultura portuguesa se acha, dia após dia, cada vez mais pobre.
(artigo publicado no Suplemento de Natal do «Diário de Notícias», edição de 25 de Dezembro de 1981)


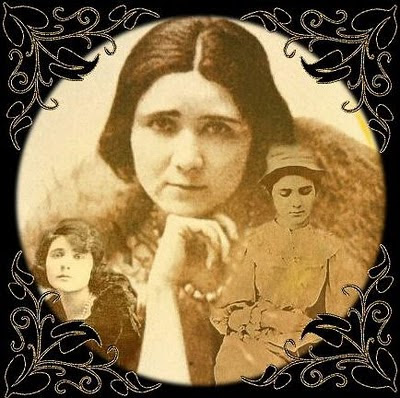


























.jpg)