José Carlos Vilhena Mesquita
A poesia é o paraíso da inteligência e das ideias, é a suprema elevação do pensamento, um alfobre de concepções quiméricas e de altruística entrega aos valores humanísticos do amor e da amizade. A poesia é também uma seara de emoções e de sentimentos, de cujo pão se alimentam sonhos de liberdade e de solidariedade, que se consubstanciam no afecto e na lealdade, no desvelo e na paixão. A poesia é um ascético templo de reflexão e desinteressada meditação sobre o fogo do amor, a luz do pensamento, a chama da vida e o imperscrutável mistério da morte.
 O poeta é um singular actor, um privilegiado observador e um genial pintor, que no tablado da vida escreve com a pena molhada em lágrimas poemas de amor e de sofrimento, passando indelevelmente para o etéreo, mas deixando atrás de si um rasto de ideias e de emoções, de que outros comungarão como uma terapia de vida ou um lugar de resistência.
O poeta é um singular actor, um privilegiado observador e um genial pintor, que no tablado da vida escreve com a pena molhada em lágrimas poemas de amor e de sofrimento, passando indelevelmente para o etéreo, mas deixando atrás de si um rasto de ideias e de emoções, de que outros comungarão como uma terapia de vida ou um lugar de resistência.A poesia de Telmoro – pseudónimo de Telmo Bernardes da Silva – é um oráculo erguido ao amor, à liberdade e ao livre-arbítrio, à beleza das coisas simples da vida, à amizade, ao amor e à paixão. O cândido lirismo de Telmoro, orvalhado e puro, rompe, despedaça e perfura a urdidura subtil dos enganos e dos prazeres fáceis. Os seus versos elevam-se acima da futilidade das rotinas, com a pujança e a expressiva naturalidade das alianças que se estabelecem entre a forma e a essência, entre o significado e o significante.
Enquanto, nos séculos precedentes, a poesia era o orgulho das nações civilizadas, o enlevo das elites dirigentes e o alimento espiritual do povo, de cujo sangue descenderam muitos dos vates que melhor ilustram as galerias da cultura europeia – hoje, todos sabemos que a poesia e as artes espirituais que transluzem a alma duma nação, valem muito pouco porque muito pouco valem também os povos letrados que ergueram a bandeira do espírito acima do tenebroso pendão do materialismo financeiro.
O imperialismo espiritual que modelou a alma das nações orientais e fez da poesia uma forma de orar a Deus, acha-se hoje ultrapassado, atrasado e empobrecido, exaurido nas suas milenares riquezas, outrora erguidas sobre os valores da espiritualidade humana. O altar das nações ergue-se sob a alta finança, sem rosto nem pátria, que tudo submete e destrói em nome do lucro, transformando os supremos sentimentos da fraternidade e da solidariedade em abjectos egoísmos e velados interesses de domínio, de submissão e de neo-servilismo. O que vemos hoje no templo da humanidade não é a glorificação de um Deus misericordioso, tolerante e compreensivo – o que vemos hoje elevado ao culto das nações desenvolvidas é a veneração da riqueza, do egocentrismo, da arrogância, do desprezo pela filantropia e pelos desafortunados, em suma… assistimos à sacralização do materialismo, à entronização da mediocridade, à glorificação do egoísmo, à exaltação da barbárie terrorista e à desculturalização dos povos espiritualizados.
Impávidos e serenos, vemos transformar-se a cultura numa indústria da mediatização e do populismo barato, num bacoquismo vivencial para gente iletrada, ou, pior ainda, para gente que se pretende amorrinhar, desinstruir e submeter a uma mediania amesquinhante, de forma a açaimar o pensamento e a desvitalizar a ilustração. Os povos de seculares culturas e modelares tradições, como os europeus, que enraizaram a civilização ocidental como modelo de progresso e de humanização, têm vindo a deixar-se cair numa americanização assoberbante e numa rasoirante globalização, submetendo-se ao imperialismo económico e à supremacia dos países industrializados.
O resultado previsível da globalização e do imperialismo financeiro será a generalização dos métodos educativos, a equalização dos graus académicos, o facilitismo da instrução, o rebaixamento da erudição e o nivelamento intelectual, inferiorizando as proeminências propulsoras das ideias humanistas, do criticismo filosófico, das artes criativas, da música erudita e da poesia lírica. O nível cultural vai inexoravelmente decrescendo pelas exigências duma mediocridade impante e dominadora, que despreza o génio poético, como quem abomina os valores da vida e condena os princípios mais elementares do humanismo, execrando os sentimentos e as emoções.
Nos dias que correm apenas interessa desenvolver as ciências experimentais em detrimento da cultura humanística, amesquinhando as Letras sob o princípio economicista da sua improdutividade.

Vivemos hoje envergonhados sob o estigma duma escolarização dita incipiente, supostamente infrutífera, por não instilar nos jovens o abstraccionismo do número e da quantificação. O nosso atraso – dizem os governantes – não resulta apenas duma deficiente equipagem tecnológica do sector industrial, mas tão só da nossa incapacidade para as ciências matemáticas, para a mecanização do pensamento em associações quantitativas, formalizando conjuntos e acções numéricas, visualizando formas e modelos. Os nossos tecnocratas preconizam insistentemente uma moderna fórmula de imbecilidade, que se consubstancia nesta peregrina afirmação: a matemática é a vida, e a vida é matemática. Pela frente e pelo verso, a frase tem muito para discutir, sendo que em todos os ângulos que a perspectivemos resulta sempre numa inverdade. A vida não é um número nem uma numeração, nem tão pouco a matemática vive do número, e muito menos da matematização. A vida, tal como a matemática, é pensamento, imaginação e criatividade. A vida é, em suma, uma herança e uma sucessão. A matemática é uma convenção, que, elevada à escala universal, pretende abarcar o todo e o nada. É uma concepção e uma idealização do abstracto, uma materialização do pensamento em formalizações imateriais, uma imponderabilidade do efectivo e uma inconsistência da verosimilhança.
A vida, e o que verdadeiramente interessa à vida, não consiste no progresso tecnológico ou na erudição científica, nem unicamente no crescimento do Produto Interno Bruto. A vida é sentimento e paixão, é emoção e contrariedade, é prazer e felicidade, é sacrifício e sofrimento, é amor e aversão, é a fortuna e a desventura, a verdade e a mentira.
A vida é também a morte, coabitando o mesmo espaço, mas trilhando caminhos tão diferentes e tão distantes, que se chega a pensar nunca serem capazes de se cruzar. Entre o nascimento e a morte espraia-se toda uma existência, a que só a poesia sabe dar alento e coragem, para glorificar a paixão, a felicidade e a saudade.
Tudo isto se pode ver e ler neste livro de Telmoro. As contradições da ciência, a sua frieza e inexpressividade, contra a sublimidade das letras e a excelência da palavra, cuja beleza e ordenamento conceptual, articulada numa silábica sucessão rítmica, fazem do poema e do pensamento lírico, uma construção artística absolutamente insuperável. Os versos de Telmoro não preconizam doutrinas, nem difundem ideologias; não se inspiram nem se modelam nos figurinos das novas escolas poéticas, tão pouco enfileiram nos movimentos expressionistas ou pós-modernos da “nouvelle vague” em que se integram as recentes gerações de poetas. A sua poesia é independente, mas não se divorcia dos cânones que moldaram os nossos maiores vates. A sua arte poética faz do soneto uma sinfonia de palavras, uma escultura de voluptuosos sentimentos e uma tela de afectuosas impressões.
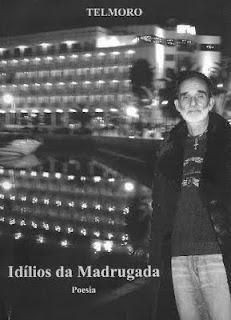 O soneto é a arte maior do poeta, apenas ao alcance daqueles que fazem da poesia um atelier de arte e um laboratório de filosofia.
O soneto é a arte maior do poeta, apenas ao alcance daqueles que fazem da poesia um atelier de arte e um laboratório de filosofia.Nestes Idílios da Madrugada resplandecem clarões de ideias, arquitectadas em sublimes pensamentos, talvez sugestionados pela recente perda da sua amantíssima esposa. Diz-se que o poeta é mais sincero e mais excelso quando sente a alma trucidada pela dor. Mas é sobretudo a luz da paixão, que se difunde na refracção do seu amor por Eduarda Maria, que nos deixa enternecidos, condoídos, feridos até aos recônditos da alma, vendo a ténue candeia da vida penetrar na última prega da neblina que cobre agora a sua pedra tumular.
Choram os seus versos pesadas lágrimas de amor, derramadas sobre o esquife ainda morno da vida que tão prematuramente partira. Debaixo do trauma da morte, com a alma esmagada pelo peso da derradeira tumba, escreveu o poeta os presente sonetos plasmados na lancinante dor de quem sofre sem poder esconder o agudo pranto da sua amargura. Em dolorosos versos, plenos de sentimento e de paixão, exarou um amargurado testemunho de amor eterno, num sagrado juramento de imperecível saudade.
(Prefácio ao livro, Idílios da Madrugada, de Telmoro)